Sob o altar de qualquer instituição humana, vale o bode expiatório pronto para ser oferecido em holocausto

Nós, progressistas, somos todos filhos de Jean-Jacques Rousseau e, por isso, tendemos a acreditar que, por meio de um novo contrato social e educacional, os preconceitos podem ser extirpados da condição humana, como se estourássemos uma espinha polpuda, e o pus explodisse à farta de uma só vez (e para sempre).
Immanuel Kant, filho dileto do Iluminismo rousseauniano, lançou as bases do imperativo categórico ético, segundo o qual o indivíduo, ao agir, deve considerar que o outro tem o mesmo direito de repetir suas ações. Assim, se um motorista opta por acelerar em face do farol vermelho, os demais condutores também podem fazê-lo, e, então, como resultado da miríade de colisões, ninguém consegue trafegar. Kantianamente, o apressado, de fato, come cru.
Kant propõe, então, que o indivíduo, sempre amparado por sua razão, aja como se fosse um legislador universal, de modo a considerar que tudo aquilo que é válido para si também seja válido para outrem. Partindo de tais premissas, o filósofo alemão irradia sua razão prática das relações entre os indivíduos até as relações entre as nações, de modo a vislumbrar no horizonte da história humana o sol da paz perpétua.
Quando ficamos sabendo que Kant nasceu, viveu e morreu na bela e provinciana Königsberg, à beira do mar Báltico, discernimos por que os princípios de sua razão prática são, na verdade, frutos de sua razão pura, puritana e protestante.
Se Kant tivesse vivido até 1946, o pensador teria testemunhado a transferência de sua cidade natal da Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial para a União Soviética, cujo vitorioso Exército Vermelho expulsou os moradores originais e rebatizou Königsberg como Kaliningrado. Em meio a um mar de refugiados, Kant só conseguiria alcançar os escombros da Alemanha após cruzar, a pé, o vasto território da Polônia. Então, ao passar por Varsóvia, Kant ficaria sabendo que, antes de se evadirem da capital polonesa, em fins de 1944/início de 1945, os nazistas fizeram questão de devastar a cidade, implodindo quarteirão após quarteirão. Ademais, os oficiais e soldados do Exército Vermelho fariam com que a manada de refugiados, ao passar por Auschwitz, conhecesse o complexo fabril e a suma tecnologia iluminista em prol do genocídio.
À beira de uma vala comum lotada com sacos de ossos, que, um dia, tiveram nomes e falaram línguas humanas, Kant vomitaria a única paz perpétua, que, até hoje, a humanidade já conheceu: a morte.
“Onde há seres humanos, há guerras. O único local de paz para os seres humanos é o cemitério” – assim falou o tsar vermelho Ióssif Stálin, com o know-how de quem encarcerou, torturou, fuzilou, degredou, escravizou e assassinou, não necessariamente nessa ordem, milhões e milhões de súditos da hoje finada União Soviética.
Coagido por um carrasco do NKVD stalinista, numa masmorra infecta, a assinar uma confissão mentirosa de que atuara como espião alemão/sabotador/contrarrevolucionário, Immanuel Kant, impedido de dormir há 4 dias, já não precisa fechar os olhos para que o pesadelo do pintor espanhol Francisco Goya se materialize diante de si: “O sonho da razão produz monstros”.
Mas, como nos ensina um velho dito anglo-saxão, “old habits die hard” (“velhos hábitos dificilmente morrem”), e é por isso que, à revelia dos escombros fumegantes da história, não poucas pessoas se recusam a acreditar que a guerra e os preconceitos são tumores inequívocos da condição humana, como se a mão que afaga não fosse o prenúncio do soco, e a boca que beija não fosse a véspera do escarro.
Sendo assim, vislumbremos a guerra de todos contra todos do cotidiano a bordo do bombardeiro B-29 que sobrevoou Hiroshima e vejamos se, ao fim de nosso calvário, o dito “old habits die hard” não se converte em “old habits die screaming” (“velhos hábitos morrem gritando”).
Em enorme medida, a cidade de São Paulo foi construída com o suor e o vigor dos migrantes nordestinos, cujo trabalho árduo é a base mesma da construção civil paulistana. Ainda assim, o fascismo odioso que habita em São Paulo discrimina tais pessoas como forasteiros indesejados e indesejáveis.
Certa feita, o escritor (e conservador) Jorge Luís Borges sentenciou que “os argentinos são europeus no exílio”. Ressentindo-se por não ter podido erguer a clava como os espanhóis para colonizar outros povos, o fascismo odioso que habita em Buenos Aires sente-se melancolicamente deslocado entre seus vizinhos latinos (mas, é claro, não deixou de pilhar e aniquilar, não necessariamente nessa ordem, os povos originários da Argentina).
Entre legais e ilegais, os imigrantes latinos nos Estados Unidos compõem parte fundamental da população economicamente ativa. Donald Trump já disparou seu ódio, um sem-número de vezes, contra tais pessoas, mas, para a eleição presidencial de 2024, o fascista republicano aposta na semeadura da discórdia em meio à própria comunidade hispânica, vociferando que os trabalhadores legais não têm nada a temer, já que as cruzadas da Klu Klux Klan desabarão exclusivamente sobre os ilegais. Resultado: metade dos hispânicos já declara voto em Trump. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Do fim da Segunda Guerra Mundial até a morte do ditador Josip Broz Tito, em 1980, o lema “Bratstvo i Jedinstvo” (“Irmandade e Unidade”) parecia ser um amálgama inquebrantável para eslovenos, croatas, sérvios, bósnios, montenegrinos e macedônios, que compunham a hoje finada Iugoslávia, como se as imemoriais e brutais tensões étnicas, nacionais e religiosas tivessem sido definitivamente sepultadas. Quando a liderança carismática e autoritária de Tito se foi, os ódios amordaçados pelo regime socialista amparado pela congênere iugoslava do KGB jorraram com a fúria dos gêiseres: os eslovenos foram os primeiros a abandonar o Titanic da unidade plurinacional; croatas e sérvios logo começaram a se dizimar; bósnios de origem sérvia, cristãos ortodoxos em sua maioria, tomaram de assalto as montanhas ao redor de Sarajevo e mantiveram o vale da capital bósnia, majoritariamente muçulmana, sob a mira criminosa de seus sniperes e bombardeios por quase 4 anos, de abril de 1992 a fevereiro de 1996, levando à morte de 12 mil pessoas e à mutilação de outras 50 mil. Por fim, não deixemos de arrolar ao inventário da metástase nos Bálcãs o massacre na cidade bósnia de Srebrenica: entre os dias 11 e 25 de julho de 1995, 8.373 meninos, adolescentes e homens muçulmanos foram assassinados por soldados da autoproclamada República Srpska, região secessionista da Bósnia dominada por bósnios de origem sérvia. Posteriormente condenado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, o oficial Ratko Mladić esteve à frente do massacre em Srebrenica e, antes de soltar seus pitbulls bípedes contra as vítimas inocentes, o fascista sérvio assim sentenciou: “Nós damos esta cidade de presente para o povo sérvio. Finalmente, chegou a hora de nos vingarmos dos turcos nesta região”. Quase 200 anos antes – eu repito: quase 200 anos antes! –, o império otomano, que dominava a região da Bósnia, sufocara uma revolta sérvia em busca de independência.
Entre 1990 e 1994, uma guerra civil encarniçada devastou Ruanda e levou ao genocídio de cerca de 800 mil pessoas da etnia tutsi por hutus étnicos – com as atenções da mídia internacional voltadas para as mortes de brancos nos Bálcãs, poucas foram as vozes que gritaram contra a morte de africanos em Ruanda. Armados com machetes e insuflados em seu ódio por estações de rádios, que, seguindo a cartilha do nazista Joseph Goebbels, xingavam os tutsis de baratas, os hutus diziam querer se vingar dos tutsis, que, quando da colonização de Ruanda, teriam ajudado os belgas a oprimi-los. (Como Narciso acha feio o que não é espelho, os belgas teriam escolhido os tutsis como engrenagens coloniais contra as demais etnias em Ruanda, entre as quais os hutus, porque os tutsis teriam traços fenotípicos menos distantes do etnocentrismo europeu.) Se maridos hutus não abjurassem suas esposas tutsis, as mulheres e seus filhos eram mortos a golpes de falcão, para só depois os ditos traidores hutus serem assassinados com ainda mais fúria.
Entre 1910 e 1945, as forças imperiais do Japão ocuparam a península da Coreia; de 1931 a 1945, a bola da vez do rolo compressor japonês foi a Manchúria, na China. Munidos de uma mescla odiosa de superioridade etnocêntrica e radical xenofobia (duas faces da mesma moeda), os fascistas japoneses coagiam coreanos e chineses a se prostrarem sempre que os senhores nipônicos perto deles passassem. Ademais, coreanos e chineses reduzidos a cobaias humanas foram submetidos a experimentos bacteriológicos e virais, que fariam inveja até mesmo ao dr. Josef Mengele, oficial da SS nazista lotado em Auschwitz e médico responsável pela expansão do domínio da dor às raias do indizível e irrespirável, ao realizar cirurgias experimentais em cobaias humanas sem quaisquer anestesias. Mas eis que, em agosto de 1945, a Força Aérea dos Estados Unidos, que já carbonizara mais de 200 mil civis inocentes em Tóquio, ao lançar bombas incendiárias de fósforo contra a capital japonesa então repleta de casas de madeira, lança bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tal crime contra a humanidade leva à capitulação incondicional do Japão e, consequentemente, ao fim da Segunda Guerra Mundial no teatro de operações do Pacífico (na Europa, o conflito terminara 3 meses antes, em maio de 1945, com a tomada de Berlim pelas tropas soviéticas e a capitulação incondicional da Alemanha nazista). Quando, em 1946, o psiquiatra estadunidense de ascendência judaica Leon Goldensohn conversou com Hermann Göring, em sua cela no tribunal de Nuremberg, na Alemanha, o ex-comandante da Luftwaffe, a Força Aérea nazista, lhe explicou por que, em sua opinião, os Estados Unidos haviam lançado bombas atômicas contra o Japão, mas não contra a Alemanha: “Os americanos realizaram o maior experimento da história com cobaias humanas. Dos políticos aos cientistas, passando pela tripulação dos bombardeiros, todos queriam ver a explosão do cogumelo apocalíptico numa cidade real, com vítimas reais, para além de meros testes nucleares. Ocorre que americanos e alemães se parecem, somos ambos brancos. Quanto aos japoneses…”.
Das mais diversas religiões (a bem dizer, todas) à miríade de ideologias políticas (a bem dizer, todas), passando pelo fanatismo das torcidas organizadas de times de futebol, não basta haver uma identidade própria composta por um conjunto comum de crenças, valores, afetos e códigos comportamentais. Forças endógenas e centrípetas não são suficientes, pois o católico não é apenas católico por ter sido batizado e por fazer a primeira comunhão; o socialista não é apenas socialista por conceber a luta de classes como o motor da história e por entoar o hino da Internacional; o corinthiano não é apenas corinthiano por vestir o manto sagrado do Coringão e por se lembrar da escalação do time, que, em 1990, se sagrou campeão brasileiro pela primeira vez na história do clube. Católicos, socialistas e corinthianos se irmanam ainda mais se, à lenha de suas fogueiras ideológicas, for jogada a gasolina da rivalidade encarniçada contra, respectivamente, protestantes, fascistas e palmeirenses.
Sob o altar de qualquer instituição humana, bale o bode expiatório pronto para ser oferecido em holocausto.
Certa vez, eu pedi a um colega que parasse de fazer odiosos comentários misóginos e homofóbicos, tão comuns à politicamente incorreta década de 1990. Foi quando eu lhe perguntei:
– Você não consegue bater um papo sem insultar outras pessoas?
Com as sobrancelhas franzidas e coçando o queixo, ele redarguiu:
– Se eu não zoar as mulheres e os gays, eu vou falar mal de quem, ora?!
Com o dedo em riste, minha tréplica foi imediata:
– Quer dizer, então, que, para existir, você precisa sempre pisar em alguém?
O chefe acossa o subordinado. O subordinado acossa a esposa. A esposa acossa os filhos. O irmão acossa a irmã. A irmã acossa a vizinha. A vizinha acossa o gato. O gato acossa o rato. O rato acossa a pulga. A pulga acossa o chefe – e a história humana amanhece com mais uma segunda-feira.
E eis que, trêmulo e combalido, Immanuel Kant procura o consultório do dr. Sigmund Freud para fazer análise.
Deitado no divã, um Kant já devidamente calejado pela vida admite duvidar, com todas as fímbrias de seu corpo (e não apenas da razão), da máxima de seu pai intelectual de outrora, o racionalista francês René Descartes: “Penso, logo existo”.
– Agora, dr. Freud, me parece que eu já não consigo dobrar sequer a primeira esquina da vida pensando assim…
Depois da enésima baforada em seu inseparável charuto – e sem suspeitar que células cancerígenas começam a formar nuvens carregadas no céu de sua boca –, Sigmund Freud rompe o hímen do silêncio analítico e sentencia para seu ilustre paciente:
– Existo, onde não penso.
Compartilhe:
Escritor, professor, youtuber, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do cotidiano (TV 247), é doutor em Letras pela USP, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University (EUA).

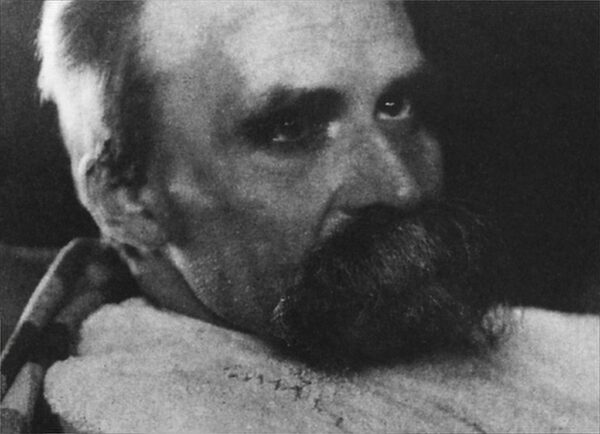







Publicar comentário